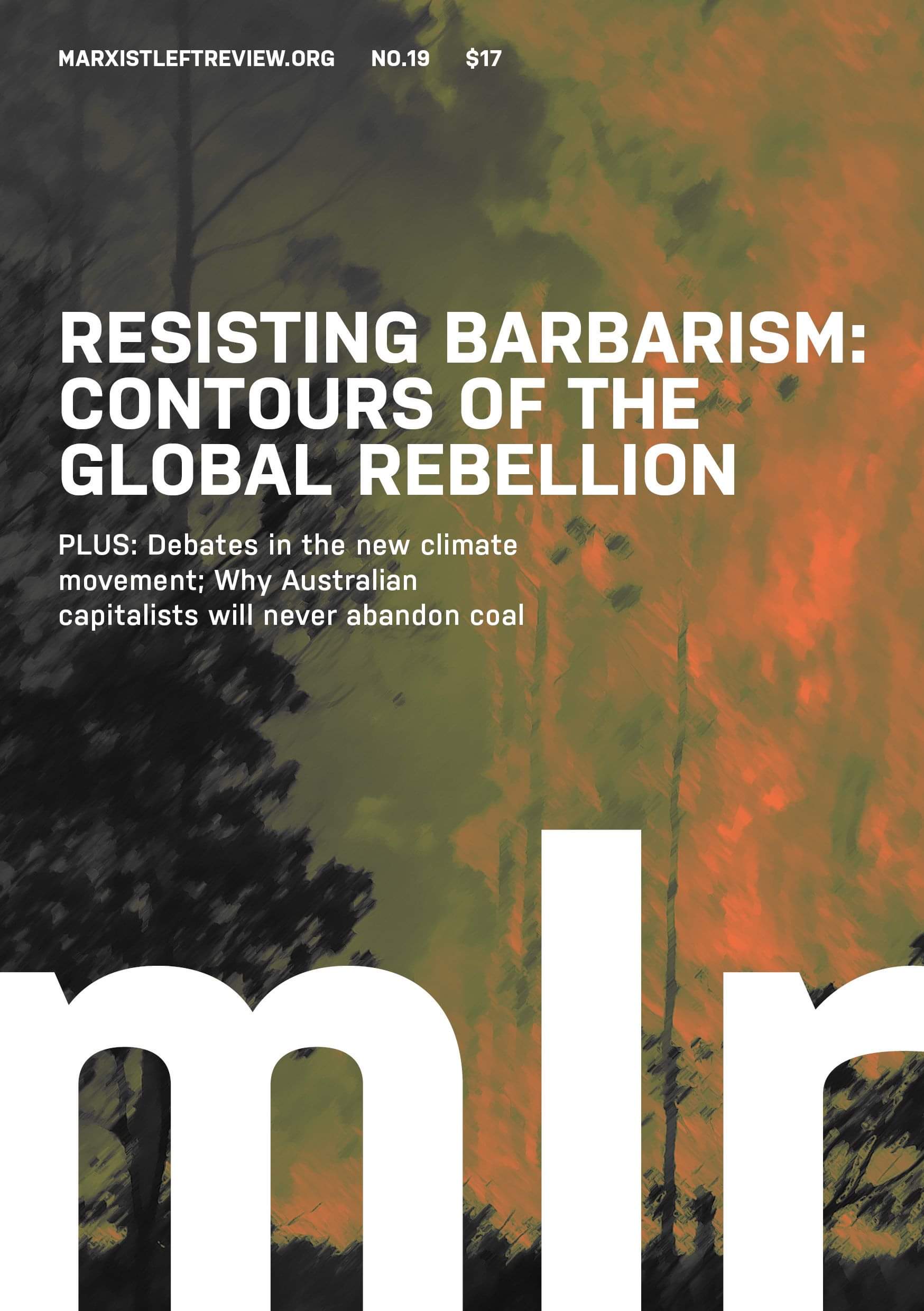Gilbert Achcar sobre as revoluções infindáveis no Oriente Médio e no Norte da África (Portuguese: Gilbert Achcar on the undying revolutions in the Middle East and North Africa)
Gilbert Achcar é professor de Estudos do Desenvolvimento e Relações Internacionais no SOAS da Universidade de Londres. É autor de vários livros sobre o Médio Oriente, incluindo The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising e Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising. Esta entrevista, publicada originalmente na Portal de la Esquerda en Movimento, foi conduzida por Darren Roso.
Vamos começar por retornar ao que agora parece ser uma memória distante: a onda de choque revolucionária que varreu o mundo árabe em 2011. Você argumentou em seu livro, The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising, que esses eventos foram apenas o início de um longo processo revolucionário devido à natureza específica do capitalismo no Oriente Médio. Você poderia explicar essas dinâmicas da economia política no mundo árabe e sua relação com as formas de governo autoritário?
Para começar com uma consideração geral, é óbvio agora que estamos assistindo a uma grave crise global da etapa neoliberal do capitalismo. O neoliberalismo se desenvolveu como uma etapa capitalista de pleno direito desde a imposição de seu paradigma econômico na década de 1980. Esta etapa entrou em crise desde a Grande Recessão, há uma década. A crise está se desdobrando sob nossos olhos, resultando em crescentes convulsões sociais. Se você olhar hoje para o que está ocorrendo no Chile, Equador, Líbano, Iraque, Iraque, Irã, Hong Kong e vários outros países, parece que o ponto de ebulição é alcançado por mais e mais países.
Os acontecimentos na região árabe inserem-se, sem dúvida, nessa crise global geral. Mas há algo de específico nessa convulsão regional. Lá, as reformas neoliberais foram realizadas num contexto dominado por um tipo específico de capitalismo – um tipo determinado pela natureza específica do sistema estatal regional que se caracteriza por uma combinação em várias proporções de rentierismo e patrimonialismo, ou neopatrimonialismo. O que é mais específico da região é a elevada concentração de estados plenamente patrimoniais, concentração inigualável em qualquer outra parte do mundo. Patrimonialismo significa que as famílias dominantes possuem o Estado, quer o possuam por lei, em condições absolutistas ou apenas de facto. Essas famílias consideram o Estado como sua propriedade privada, e as forças armadas – especialmente os aparelhos armados de elite – como sua guarda privada. Estas características explicam por que as reformas neoliberais tiveram seus piores resultados econômicos na região árabe de todas as partes do mundo. As mudanças de inspiração neoliberal alcançadas na região resultaram nas taxas mais lentas de crescimento econômico de qualquer parte do mundo em desenvolvimento e, consequentemente, nas taxas mais altas de desemprego no mundo – especificamente o desemprego juvenil.
A razão disto não é difícil de entender: o dogma neoliberal baseia-se na primazia do sector privado, na ideia de que o sector privado deve ser o motor do desenvolvimento, enquanto as funções sociais e económicas do Estado devem ser reduzidas. O dogma diz em poucas palavras: introduzir medidas de austeridade, reduzir o Estado, cortar as despesas sociais, privatizar as empresas estatais e deixar a porta aberta à iniciativa privada e ao comércio livre, e os milagres vão acontecer.
Agora, em um contexto sem os pré-requisitos do capitalismo ideal-típico, começando com o Estado de Direito e a previsibilidade (sem os quais o investimento privado desenvolvimentista de longo prazo não pode acontecer), o que se obtém é a maior parte do investimento privado indo para lucro rápido e especulação, especialmente no setor imobiliário junto com a construção, mas não na manufatura ou agricultura, não nos setores produtivos cruciais.
Isto criou um bloqueio estrutural do desenvolvimento. Assim, a crise geral da ordem neoliberal global vai além de uma crise do neoliberalismo na região árabe, em uma crise estrutural do tipo de capitalismo que ali prevalece. Não há, portanto, saída para a crise na região por uma mera mudança de políticas econômicas dentro do quadro contínuo do tipo de Estados existentes. É indispensável uma mutação radical de toda a estrutura social e política, sem a qual a aguda crise socio-econômica e a desestabilização que afeta toda a região não terão fim à vista.
É por isso que uma onda de choque revolucionária tão impressionante abalou toda a região em 2011, em vez de apenas protestos em massa. A perspectiva era verdadeiramente insurrecional, com as pessoas gritando “O povo quer derrubar o regime! – o slogan que se tornou onipresente na região desde 2011. A primeira onda de choque revolucionária daquele ano abalou vigorosamente o sistema regional de Estados, revelando que ele havia entrado em uma crise terminal. O velho sistema está morrendo irreversivelmente, mas o novo ainda não pode nascer – estou me referindo aqui, é claro, à famosa frase de Gramsci – e é aí que os “sintomas mórbidos” começam a aparecer. Usei essa frase no título da sequência de 2016 do meu livro The People Want, publicado em 2013.
É verdade que as medidas neoliberais no mundo árabe aceleraram apesar do surto revolucionário? Os preços dos alimentos no Egito estão subindo junto com os preços da eletricidade e dos combustíveis, e as estimativas conservadoras do Banco Mundial dizem que cerca de 60% dos egípcios eram “pobres ou vulneráveis”, tudo isso enquanto o regime renovou sua repressão contra os manifestantes de rua. Você pode falar sobre a relação entre a contrarrevolução e o neoliberalismo acelerado?
O Egipto é, de fato, um bom exemplo disso mesmo. Quando a Grande Recessão chegou em 2008, muitos acreditavam que ela anunciava o fim do neoliberalismo e que o pêndulo voltaria para o paradigma keynesiano. Essa foi uma enorme ilusão, no entanto, pela simples razão de que as políticas econômicas não são determinadas por considerações intelectuais e empíricas; elas são determinadas pelo equilíbrio das forças de classe.
A viragem neoliberal tem sido conduzida desde os anos 80 por frações da classe capitalista, aquelas com um interesse declarado na financeirização. A fim de trazer uma nova mudança para longe disso, é necessário que haja uma mudança no equilíbrio social de forças, com impacto no equilíbrio entre as fracções da própria classe capitalista, uma mudança pelo menos equivalente à que ocorreu nos anos 70 e 80.
Isso ainda não aconteceu, e as forças progressistas contra o neoliberalismo ainda não se mostraram suficientemente fortes para impor mudanças. Os neoliberais ainda estão na ofensiva: afirmam que a razão da crise global não é o neoliberalismo, mas a falta de uma implementação completa de suas receitas. Embora tenham recorrido maciçamente em 2008-9 a medidas que contradizem o seu próprio dogma, como o enorme resgate do setor financeiro através dos fundos estatais, rapidamente voltaram a recorrer cada vez mais às mesmas políticas neoliberais que foram sendo cada vez mais impulsionadas.
É exatamente o que temos na região árabe, apesar da gigantesca onda de choque revolucionária que abalou toda a região em 2011. Quase todos os países de língua árabe viram um aumento massivo de protestos sociais em 2011. Seis dos países da região – ou seja, mais de um quarto deles – testemunharam revoltas massivas. E, no entanto, a “lição”, segundo o FMI, o Banco Mundial, esses guardiões da ordem neoliberal, é que tudo isso aconteceu porque suas receitas neoliberais não tinham sido implementadas de forma suficientemente completa! A crise, segundo eles, se deveu a um desmantelamento insuficiente dos restos das economias estatais-capitalistas de ontem. Afirmaram que a solução é acabar com todas as formas de subsídios sociais, ainda mais radicalmente do que o que já havia ocorrido.
No entanto, a razão pela qual os governos da região não fizeram mais disso foi, de fato, porque tinham receio de o fazer. Isto não é a Europa Oriental depois da queda do Muro de Berlim, quando as pessoas engoliram a pílula muito amarga das mudanças neoliberais maciças, na esperança de que isso lhes traria prosperidade capitalista. No mundo árabe, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço por isso porque não têm ilusões de que seus países se tornarão como a Europa Ocidental, como os europeus orientais foram levados a acreditar. Por conseguinte, para impor mais medidas neoliberais aos povos, é necessária uma força brutal. O Egito é, portanto, uma ilustração muito clara do fato de que a implementação do neoliberalismo não anda de mãos dadas com a democracia, como a fantasia do “fim da história” de Fukuyama afirmou há trinta anos.
O Egito mostra claramente que, para implementar completamente o programa neoliberal no Sul Global, são necessárias ditaduras. A primeira dessas implementações foi no Chile de Pinochet, é claro. No Egito, é agora a ditadura pós-2013 liderada pelo Marechal de Campo Sisi – o regime mais brutalmente repressivo que os egípcios sofreram em muitas décadas. Ele foi mais longe na implementação do programa neoliberal completo defendido pelo FMI, a um custo enorme para a população, com um aumento acentuado no custo de vida, preços dos alimentos, preços dos transportes, tudo. As pessoas ficaram completamente devastadas. A razão pela qual a sua ira não explodiu nas ruas em grande escala é que elas são dissuadidas pelo terror estatal. Mas a plena aplicação das receitas neoliberais do FMI não produziu nem produzirá um milagre económico. As tensões estão assim a aumentar e, mais cedo ou mais tarde, o país irá entrar em erupção novamente. Já houve uma explosão limitada de raiva popular em setembro passado; mais cedo ou mais tarde, haverá uma explosão muito maior.
Embora os contextos sejam diferentes e a especificidade seja sempre importante, por que razão a barbárie manteve a sua vantagem sobre os movimentos operários e democráticos em todo o mundo árabe? Quais e por que foram os pontos de viragem da derrota na região desde 2011? Qual é o estado da esquerda egípcia e do movimento operário diante do ultraneoliberalismo de Sisi e de sua brutalidade autoritária?
Infelizmente, tanto a esquerda como o movimento operário no Egipto estão em má forma. Sofreram uma derrota dolorosa – não só devido ao brutal regresso do Estado repressivo, mas também devido às suas próprias contradições e ilusões. A maior parte da esquerda egípcia seguiu uma trajectória politicamente errática, passando de uma aliança mal concebida para outra: da Irmandade Muçulmana para os militares. Em 2013, a maioria da esquerda e do movimento operário independente apoiou o golpe de Sisi de forma muito míope, subscrevendo a ilusão de que o exército voltaria a colocar o processo democrático no caminho certo. Eles pensavam que se livrar de Morsi e da Irmandade Muçulmana, depois de seu ano no poder, reabriria o caminho para promover o processo revolucionário, embora ele tenha sido criado pelos militares.
Parece um pouco disparatado, mas a verdade é que eles tinham essa ilusão, que os militares fomentaram na fase inicial do pós-culpimento. Os militares até mesmo cooptaram o chefe do movimento operário independente para seu primeiro governo pós-goto. Este terrível erro desacreditou a esquerda, bem como o movimento operário independente. Como resultado, a oposição de esquerda está muito enfraquecida e marginalizada no Egito de hoje.
Não estou falando aqui da esquerda radical marxista, que sempre foi marginal, embora tenha desempenhado um papel desproporcional, por vezes, durante a convulsão revolucionária de 2011-13. Estou falando da esquerda mais ampla, aquela que costumava apelar às grandes massas. Esta esquerda mais ampla perdeu grande parte da sua credibilidade após 2013. Esta é realmente uma razão crucial pela qual as pessoas não se mobilizaram massivamente contra o novo ataque neoliberal. Quando não há alternativa crível, as pessoas tendem a assimilar o discurso do regime que diz: “Somos nós ou o caos, nós ou uma tragédia síria. Tens de aceitar a nossa mão de ferro. Vai ser difícil, mas no final do dia vais encontrar prosperidade”. Os egípcios não compram realmente a última promessa – a prosperidade – mas continuam paralisados pelo medo de cair numa situação muito pior ainda do que aquela em que vivem.
A tudo isto está ligada uma outra especificidade do processo revolucionário regional, de que a Síria é a ilustração mais trágica. Já discutimos uma primeira especificidade – a crise estrutural que é peculiar ao mundo árabe no contexto da crise geral do neoliberalismo. A outra especificidade é que esta região tem vivido, ao longo de várias décadas, o desenvolvimento de uma corrente reacionária de oposição, que foi promovida durante muitos anos pelos Estados Unidos ao lado do seu mais antigo aliado na região, o reino saudita. Refiro-me ao fundamentalismo islâmico, claro – todo o espectro desta corrente, cujo componente mais proeminente é a Irmandade Muçulmana e cuja franja mais radical inclui a Al-Qaeda e o chamado Estado Islâmico (ou ISIS).
O fundamentalismo islâmico foi patrocinado por Washington como principal antídoto para o comunismo e o nacionalismo de esquerda no mundo muçulmano durante a Guerra Fria. Durante a década de 1970, os fundamentalistas islâmicos receberam luz verde de quase todos os governos árabes como contrapeso à radicalização da juventude de esquerda. Com o refluxo subsequente da onda de esquerda, eles se tornaram as forças de oposição mais proeminentes toleradas em alguns países, como Egito ou Jordânia, e esmagadas em outros, como Síria ou Tunísia. No entanto, elas estavam presentes em todos os lugares.
Quando as revoltas de 2011 começaram, os ramos da Irmandade Muçulmana saltaram para o comboio revolucionário e tentaram sequestrá-lo para servir seus próprios propósitos políticos. Eram muito mais fortes do que quaisquer forças de esquerda que restassem na região, muito enfraquecidas pelo colapso da URSS, enquanto os fundamentalistas desfrutavam do apoio financeiro e mediático das monarquias petrolíferas do Golfo.
Como resultado, o que evoluiu na região não foi a clássica oposição binária da revolução e contrarrevolução. Foi uma situação triangular na qual você tinha, por um lado, um pólo progressista – aqueles grupos, partidos e redes que iniciaram as revoltas e representaram suas aspirações dominantes. Este pólo era organicamente fraco, exceto para a Tunísia, onde um poderoso movimento operário compensou a fraqueza da esquerda política e permitiu que a revolta neste país obtivesse a primeira vitória na derrubada de um presidente, desencadeando assim a onda de choque regional. Por outro lado, havia dois pólos contrarrevolucionários e profundamente reacionários: os velhos regimes, que representam classicamente a principal força contrarrevolucionária, mas também as forças fundamentalistas islâmicas competindo com os velhos regimes e lutando para tomar o poder. Nesta competição triangular, o pólo progressista, a corrente revolucionária, foi logo marginalizado – não ou não apenas devido à fraqueza organizacional e material, mas também e principalmente por causa da fraqueza política, da falta de visão estratégica.
A situação ficou dominada, portanto, pelo choque entre os dois pólos contrarrevolucionários, que se transformou num “choque de barbáries”, como eu costumo chamar, de que a Síria é a ilustração mais trágica, com um regime sírio mais bárbaro confrontado com forças fundamentalistas islâmicas bárbaras. O enorme potencial progressista que representavam os jovens que iniciaram a revolta na Síria em março de 2011 foi completamente esmagado.
Muitos desses jovens deixaram o país, porque não conseguiram sobreviver nem em territórios mantidos pelo regime nem em territórios mantidos por forças fundamentalistas islâmicas. Grande parte do potencial progressista sírio estava assim disperso na Europa, Turquia, Líbano e Jordânia. Alguns deles sobrevivem dentro do país, mas, enquanto a situação de guerra continuar, será difícil para ele ressurgir.
A situação curda na Síria é uma história diferente. O PYD/YPG curdo no Nordeste da Síria é, sem dúvida, o mais progressista de todas as forças armadas activas no terreno na Síria, se não a única força progressista. Conseguiram desenvolver e ampliar o território sob seu controle com o apoio dos EUA, porque Washington sob Obama os viu como soldados eficientes na luta contra o ISIS. Eles tinham seu próprio interesse em lutar contra o ISIS, é claro, já que é um inimigo mortal para eles. Sua primeira cooperação direta com os EUA foi de fato na batalha de Kobane em 2014, quando o apoio aéreo dos EUA, incluindo gotas aéreas de armas, foi decisivo para permitir que os combatentes curdos recuassem na ofensiva do ISIS. Houve, portanto, uma convergência de interesses entre os EUA, fornecendo apoio aéreo, bem como outros meios e recursos, e o YPG, fornecendo tropas no terreno.
Foi isso que Donald Trump decepcionou, esfaqueando os curdos pelas costas e abrindo caminho à ofensiva colonial-nacionalista e racista da Turquia contra eles. A sua situação tornou-se extremamente precária, uma vez que estão agora presos entre o martelo da Turquia e a bigorna do regime sírio, entre o chauvinismo turco e o chauvinismo árabe – dois projetos de limpeza étnica, convergindo para o projeto de substituição dos curdos pelos árabes nas zonas fronteiriças da Síria com a Turquia. Moscou está ajudando ambas as partes neste esforço.
Mas o PYD/YPG não se juntou ao resto da luta contra o regime assassino de Assad…
Eu não colocaria a culpa principal sobre eles: nenhuma das forças armadas da oposição síria estava aberta a um verdadeiro reconhecimento dos direitos democráticos e nacionais dos curdos. É certo que os PYD/YPG não são uma reiteração da Comuna de Paris, embora alguns tendam a retratá-los de forma bastante ingênua. No entanto, com todas as suas limitações e sem alimentar ilusões a seu respeito, representam a força organizada mais progressista e significativa no terreno na Síria. Se tomarmos como critério principal o estatuto das mulheres – e esse deve ser sempre um critério crucial para os progressistas -, não há correspondência para o PYD/YPG. Acresce que os seus co-pensadores na Turquia lideram o Partido Popular Democrático (HPD), a única grande força política progressista e feminista naquele país.
Quais foram as lições teóricas e políticas mais significativas a retirar do ciclo anterior de luta revolucionária para os marxistas? Muitas vezes ouvimos o argumento de que o marxismo é “orientalista” e é, portanto, inadequado para as sociedades não-ocidentais. A atitude de Michel Foucault em relação à revolução iraniana (1979) foi um exemplo da tentativa de encontrar a salvação numa alteridade religiosa não-ocidental, declarando o fim das visões universais de emancipação humana, política de classes e instrumentos teóricos marxistas para compreender o mundo.
Então, por que você acredita que a teoria marxista está melhor equipada para dar sentido às revoluções e contra-revoluções em todo o Oriente Médio e Norte da África? Quais são as perspectivas para uma nova geração de ativistas marxistas de língua árabe a se desenvolver desde 2011, e até que ponto isso começou a acontecer?
A visão orientalista da região é que ela está condenada a ficar eternamente presa na religião como parte de sua essência cultural, e que a religião explica tudo e sempre foi a principal motivação das populações da região. Essa é uma visão completamente imperfeita, é claro, que também é muito impressionista, pois ignora o passado e acredita que o presente vai durar para sempre.
Olhando para o Médio Oriente e o Norte de África nos últimos anos, podemos ficar com a impressão de que as forças fundamentalistas islâmicas são proeminentes em todo o lado. Contudo, não era esse o caso há algumas décadas, especialmente nos anos 50 e 60, quando estas forças foram marginalizadas por forças de esquerda muito mais fortes. Pediram-me que escrevesse um prefácio para a reedição do livro Marxism and the Muslim World de Maxime Rodinson há alguns anos. Esta coleção de artigos, a maior parte dos quais foram escritos nos anos 60, discute uma parte do mundo onde as correntes de esquerda eram dominantes. Tive, portanto, que informar ou lembrar os leitores desse fato histórico, para que não ficassem perplexos ao ler o livro.
Poucos sabem hoje que, nos anos 50 e 60, foi amplamente assumido que a região árabe estava sob hegemonia ideológica comunista. Um autor marroquino publicou em 1967, em francês, um livro intitulado Contemporary Arab Ideology, onde discutia o que chamou de “marxismo objetivo” como uma ideologia difusa na região. Com esta frase, ele quis dizer que as pessoas usavam categorias e ideias marxistas, a maioria delas sem sequer ter consciência da sua origem.
Ou tomemos um país como o Iraque – um bom exemplo. Hoje, clérigos e mulás dominam a cena política, especialmente entre os xiitas. Mas se você retroceder rapidamente até o final dos anos 1950, verá que a maior luta no país se opôs aos comunistas aos baathistas, estes últimos subscrevendo uma ideologia nacionalista que se descreveu como socialista. Os comunistas foram particularmente influentes entre os xiitas e foram capazes de mobilizar centenas de milhares de pessoas em manifestações. Assim, pensem no Iraque de então e no Iraque de hoje: um grande fosso está a separá-los. Mas isso prova que não há nada nos genes das populações da região que as condene a seguir a orientação política das forças religiosas.
O líder político mais popular da história árabe moderna foi indiscutivelmente Gamal Abdel-Nasser – o presidente do Egipto entre 1956 e a sua morte prematura em 1970. Ele foi o mais longe possível para a esquerda dentro dos limites do nacionalismo burguês, implementando uma ampla nacionalização da economia, juntamente com sucessivas reformas agrárias, promovendo o desenvolvimento industrial liderado pelo Estado, e trazendo uma melhoria substancial nas condições de trabalho, tudo isso em um cenário anti-imperialista e antissionista.
Embora tenha ocorrido sob duras condições ditatoriais, esta foi uma fase muito progressista na história do Egito, e foi emulada em vários países árabes. Quando se contempla essa história, percebe-se que o papel do fundamentalismo islâmico nas últimas décadas não está enraizado nalguma essência cultural, como a visão orientalista o teria. É antes o produto de desenvolvimentos históricos específicos. Como já discutimos, é em parte o produto do uso prolongado e intensivo do fundamentalismo islâmico por parte de Washington, em conluio com o Estado mais reacionário do mundo, o reino saudita, na luta contra Nasser e a influência da URSS na região árabe e no mundo muçulmano.
Quando a Primavera Árabe (como as revoltas foram chamadas em 2011) floresceu, uma nova geração entrou na luta em escala de massa. A maior parte dessa nova geração aspira a uma transformação radical progressiva. Eles aspiram a melhores condições sociais, liberdade, democracia, justiça social, igualdade, incluindo a emancipação de gênero. Eles rejeitam as políticas neoliberais e sonham com uma sociedade em forte contraste com as visões programáticas das forças fundamentalistas islâmicas que seqüestraram ou tentaram seqüestrar as revoltas e levá-las a seus próprios objetivos.
Há um enorme potencial progressivo na região, e nós o vimos voltando à tona na segunda onda de choque revolucionária que está se desdobrando atualmente. Começou em Dezembro de 2018 com a sublevação sudanesa, seguida, desde Fevereiro passado, pela sublevação argelina e, desde Outubro, por enormes protestos sociais e políticos no Iraque e no Líbano. O Sudão, a Argélia, o Iraque e o Líbano estão fervendo, e todos os outros países da região estão à beira da explosão.
E o papel do stalinismo no mundo árabe?
A União Soviética e os partidos comunistas sob sua liderança representaram a forma dominante de “marxismo” na região durante décadas. Houve vários partidos comunistas importantes na região, todos estreitamente ligados a Moscou. Isto significava que a literatura marxista autodescrita era fortemente dominada pelo stalinismo na região nos anos 50 e 60. Com a emergência global da Nova Esquerda no final dos anos 1960 e 1970, novas traduções permitiram o acesso a autores marxistas críticos e anti-stalinistas marxistas em árabe.
A ascensão de uma Nova Esquerda na região árabe foi impulsionada pela derrota dos exércitos árabes em junho de 1967 na chamada Guerra dos Seis Dias, que deu um duro golpe a Nasser e ao seu regime. Uma grande parte da juventude radicalizou-se para além do nasserismo e do stalinismo, no que muitas vezes foi o nacionalismo radical num traje “marxista” em vez do marxismo puro. A Nova Esquerda Árabe cresceu significativamente no final dos anos 60 e início dos anos 70, mas falhou na construção de uma alternativa à velha esquerda, quanto mais de uma alternativa às potências.
Foi nesse período que os regimes usaram o fundamentalismo islâmico para cortar a Nova Esquerda pela raiz. A maioria dos governos árabes, se não todos, desencadeou e ajudou os grupos fundamentalistas islâmicos na década de 1970, especialmente nas universidades, como antídoto para a nova radicalização de esquerda. Assim, contribuíram significativamente para o fracasso da esquerda radical.
É claro que esta última tem a principal responsabilidade pela sua própria derrota. Faltou-lhe maturidade política e perspicácia estratégica. A nova radicalização não foi muito além do anteriormente dominante “marxismo” superficial e dogmático, fortemente influenciado pelo stalinismo. O marxismo foi geralmente reduzido a alguns clichês. Houve exceções, é claro, mas a produção intelectual marxista original em árabe permaneceu muito limitada – deixando de lado as contribuições de pensadores marxistas da região que viviam no exterior e escreviam em línguas européias, como o falecido Samir Amin. A exceção mais proeminente foi Hassan Hamdan, conhecido sob o pseudônimo de Mahdi Amel. Ele era o intelectual mais sofisticado do Partido Comunista Libanês e foi assassinado pelo Hezbollah em 1987. Uma antologia de seus escritos será publicada em breve na tradução para o inglês.
Voltemos ao presente: a sublevação argelina e a revolução sudanesa reacenderam a esperança, assim como os corajosos protestos nas ruas egípcias e as assembleias libanesas na praça de Riad al-Solh apelando à derrubada do atual regime. Correndo o risco de fazer uma pergunta impossível, até que ponto as pessoas comuns da região aprenderam lições políticas da anterior onda de luta? Que tipo de dinâmica de massas está aqui envolvida? Como é que os oprimidos e explorados aprenderam com a experiência da luta de massas? Eles aprenderam?
Eles definitivamente aprenderam. Processos revolucionários prolongados são cumulativos em termos de experiência e know-how. São curvas de aprendizagem. Os povos aprendem, os movimentos de massas aprendem, os revolucionários aprendem, e os reacionários aprendem também, é claro, todos aprendem. Um processo revolucionário de longo prazo é uma sucessão de ondas de surtos e retrocessos contrarrevolucionários – mas eles não são meras repetições de padrões semelhantes. O processo não é circular, tem de avançar ou então degenera.
As pessoas aprendem as lições das experiências anteriores e fazem o seu melhor para não repetir os mesmos erros ou cair nas mesmas armadilhas. Isto é muito claro no caso do Sudão, mas também para a Argélia e agora também para o Iraque e o Líbano. O Sudão e a Argélia, juntamente com o Egipto, são os três países da região onde as forças armadas constituem a instituição central do governo político. Evidentemente, os aparelhos armados são a espinha dorsal dos Estados em geral, mas é o regime militar direto que é peculiar a estes três países da região árabe.
Os seus regimes não são patrimonialistas. Nenhuma família possui o Estado a ponto de fazer o que quiser. O Estado é dominado colegialmente pelo comando das forças armadas. Estes são regimes “neo-patrimonialistas”: isto significa que eles são caracterizados pelo nepotismo, compadrio e corrupção, mas não há uma única família que esteja no controle total do Estado, o qual permanece institucionalmente separado das pessoas dos governantes. Isso explica por que nos três países os militares acabaram por se livrar do presidente e da sua comitiva para salvaguardar o regime militar.
Foi o que aconteceu no Egito em 2011 com a demissão de Mubarak, e este ano na Argélia com o fim da presidência de Bouteflika, seguido da derrubada de Bashir no Sudão, todos os três levados a cabo pelos militares. No entanto, quando isso aconteceu no Egito, houve enormes ilusões populares nos militares, que foram renovadas em 2013, quando os militares depuseram o presidente da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi.
Estas ilusões não foram reiteradas no Sudão ou na Argélia em 2019. Pelo contrário, o movimento popular nos dois países estava perfeitamente consciente de que os militares constituem o pilar central do regime de que se querem livrar. O movimento em ambos os países compreende muito bem que quando cantam “O povo quer derrubar o regime”, querem dizer governo militar como um todo – não apenas a ponta presidencial do iceberg. Eles entendem isso muito claramente tanto na Argélia como no Sudão, ao contrário do que aconteceu no Egito anteriormente.
Mas no Sudão há mais do que essa diferença. Há uma liderança que encarna a consciência das lições tiradas de todas as experiências regionais anteriores. Isto deve-se principalmente à fundação da Associação de Profissionais Sudaneses (APS), que começou em 2016 com professores, jornalistas, médicos e outros profissionais a organizar uma rede clandestina. Com o desenrolar da revolta que começou em dezembro de 2018, a associação se desenvolveu em uma rede muito maior envolvendo sindicatos de trabalhadores de todos os setores-chave da classe trabalhadora. Ela tem desempenhado um papel central nos eventos do lado do movimento popular. A APS também foi instrumental na constituição de uma ampla coalizão política envolvendo vários partidos e grupos. Eles estão atualmente envolvidos em um puxão de guerra política com os militares. Acordaram temporariamente num compromisso que instituiu o que pode ser descrito como uma situação de duplo poder. O país é governado por um conselho no qual a liderança do movimento popular está representada ao lado do comando militar. Este é um período de transição desconfortável que não pode durar muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, uma das duas potências terá que prevalecer sobre a outra.
Mas o ponto-chave aqui é que a experiência sudanesa representa um enorme passo em frente em comparação com tudo o que vimos desde 2011, e isto graças à existência de uma liderança politicamente astuta. A APS não fomentou quaisquer ilusões sobre os militares. Eles são tão radicalmente opostos ao regime militar quanto ao fundamentalismo islâmico, especialmente porque ambos estavam representados no regime de Omar al-Bashir. Eles defendem um programa muito progressista, incluindo uma notável dimensão feminista. Essa é uma experiência muito importante que é observada de perto em toda a região.
O movimento popular na Argélia é espantoso por ter organizado enormes manifestações de massas todas as semanas durante vários meses. Mas não tem uma liderança reconhecida e legítima. Ninguém pode afirmar que fala em seu nome. Esta é uma fraqueza óbvia, em flagrante contraste com o Sudão. As formas de liderança mudam naturalmente ao longo do tempo, mas não entrámos numa era pós-moderna de “revoluções sem líderes”, como alguns querem que acreditemos. A falta de liderança é um impedimento crucial: uma liderança reconhecida é crucial para canalizar a força do movimento de massas para um objetivo político. Isso eles têm no Sudão, mas não na Argélia, e ainda não no Iraque ou no Líbano.
No entanto, tanto no Iraque como no Líbano, pessoas inspiradas pelo exemplo sudanês estão a tentar criar algo como a APS. Há avanços nessa direção, envolvendo professores universitários e vários profissionais. No Líbano, criaram uma Associação de Mulheres e Homens Profissionais, claramente inspirada no modelo sudanês. Isso mostra claramente como a aprendizagem a partir da experiência funciona em nível regional.
Poderia aprofundar os aspectos mais significativos dos movimentos de massas no Iraque e no Líbano?
Ambos os movimentos partilham uma particularidade notável, na medida em que ambos os países, Iraque e Líbano, se caracterizam por um sistema político sectário.
No Líbano, foi institucionalizado pelo colonialismo francês após a Primeira Guerra Mundial numa forma próxima do atual sistema político do país. No Iraque, foi institucionalizado pela ocupação americana, muito mais recentemente. Esses regimes políticos sectários prosperam a partir de divisões sectárias, naturalmente. Em seu contexto, as divisões sectárias religiosas tornam-se a característica definidora da vida política e do governo. O sectarismo é uma ferramenta muito perniciosa e eficaz para desviar a luta de classes para conflitos religiosos. É uma velha receita, uma versão de “dividir para reinar”: frustrar qualquer solidariedade horizontal de classe versus classe, transformando-a em um choque vertical entre seitas. As lideranças nepotistas burguesas e sectárias asseguram a lealdade dos membros das classes populares pertencentes à sua comunidade sectária, alimentando divisões e rivalidades sectárias.
Tanto no Iraque como no Líbano, a acumulação de queixas sociais resultantes de uma forma muito selvagem de capitalismo que esmaga as pessoas comuns e deteriora o seu nível de vida criou um enorme ressentimento. A explosão social foi desencadeada por uma medida política no Iraque – a demissão de uma figura militar popular – e econômica no Líbano – uma projetada taxa sobre as comunicações VoIP. Estas medidas provocaram uma formidável explosão de raiva popular. No Líbano, para surpresa de todos, a explosão cobriu todo o país e envolveu pessoas pertencentes a todas as seitas. No Iraque, ela tem se limitado principalmente à maioria xiita árabe, mas isso é igualmente significativo, já que a própria clique dominante é xiita. O movimento em ambos os países repudiou assim fortemente o sectarismo em favor de um renovado sentido de pertença popular-nacional.
No Líbano, o sectarismo estava tão enraizado historicamente que parecia ser uma barreira muito difícil de romper. Foi, portanto, muito surpreendente ver pessoas pertencentes a todas as comunidades religiosas participarem de uma revolta cujo slogan chave se tornou o equivalente em árabe da língua espanhola “Que se vayan todos! (Todos eles devem ir!), que foi o slogan chave da revolta popular de dezembro de 2001 na Argentina. A versão libanesa diz “Todos eles significam todos eles” – uma forma de insistir no repúdio de todos os membros da classe dominante, sem exceções. “Nós vs. eles” mudou de seita vs. seita para uma revolta do povo de baixo contra todos os membros da casta dominante no topo, qualquer que seja a seita político-religiosa a que pertençam, seja xiita, sunita, cristã ou drusa.
O Hezbollah não foi poupado – o que é ainda mais gritante, uma vez que até então tinha sido imposta uma espécie de tabu relativamente ao partido e, em particular, ao seu líder. Foi espantoso ver que as pessoas saíram à rua nas regiões sob o controlo do Hezbollah, apesar da posição clara do partido contra o movimento popular. Desde então, tem havido sucessivas tentativas de intimidar o movimento popular por bandidos pertencentes ao Hezbollah e ao seu estreito aliado Amal, os dois grupos sectários xiitas.
No Iraque, partidos e milícias ligados ao regime iraniano empenharam-se em reprimir a revolta popular a uma escala muito maior, com muitas mortes. Isso porque a tutela de Teerã sobre o governo do Iraque é um dos principais alvos da revolta popular. A recente explosão de raiva dentro do próprio Irã também foi recebida com repressão brutal. O regime teocrático do Irã confirma, assim, que é uma das principais forças reacionárias da região em pé de igualdade com seu rival regional, o reino saudita. Isso já estava claro em sua brutal repressão ao movimento popular democrático no Irã em 2009, bem como em sua contribuição massiva ao impulso contra-revolucionário do regime sírio a partir de 2013 e em sua pesada repressão aos protestos sociais que se reacenderam novamente no Irã no final de 2017 e início de 2018.
O papel das mulheres na segunda onda do processo revolucionário na região árabe é outra característica muito importante e mais uma indicação do maior grau de maturidade alcançado pelos movimentos populares. No Sudão, na Argélia e no Líbano, as mulheres participaram massiva e visivelmente nas manifestações e manifestações de massas, bem como na sua direção. Nos três países, as feministas têm sido um componente crucial dos grupos envolvidos nas revoltas. Mesmo no Iraque, onde as mulheres eram pouco visíveis na fase inicial dos protestos, elas estão se envolvendo cada vez mais, especialmente desde que os estudantes se juntaram à mobilização.
A grande questão agora é: os movimentos populares na Argélia, Iraque e Líbano conseguirão encontrar formas de se organizar, como fizeram seus irmãos e irmãs sudaneses, para ampliar o impacto de suas lutas e dar passos importantes para a realização de seus objetivos, ou as classes dominantes conseguirão sufocar cada uma dessas três revoltas e desarmá-las? Sem ser otimista devido à natureza muito viciosa dos regimes que governam esta parte do mundo, tenho muita esperança. No entanto, a minha esperança baseia-se no conhecimento de que existe um enorme potencial progressista, embora esteja perfeitamente consciente de que, para ser concretizado, é necessária muita luta, organização e perspicácia política.